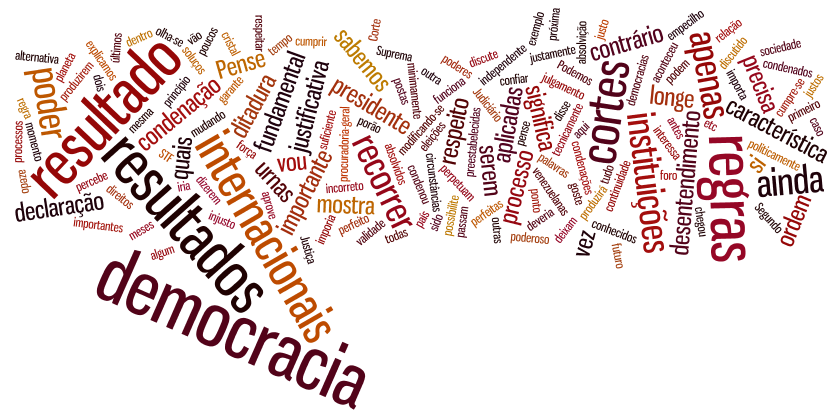Quando em 1974 a Suprema Corte condenou o presidente Nixon, o homem mais poderoso do planeta, ele não disse ‘não vou respeitar sua decisão’ ou ‘vou recorrer às cortes internacionais’. Não importa seu poder ou seu ego: ele sabia que deveria cumprir a ordem porque as instituições eram mais importantes do que ele.
Em uma democracia, não se discute uma ordem da Justiça: cumpre-se. Não interessa o gosto azedo que ela possa ter. Podemos achar ou suspeitar que o julgamento foi politicamente influenciado, tecnicamente incorreto etc. Mas tudo isso precisa ser discutido dentro do processo, e não fora dele, ou mudando suas regras aplicadas a ele.
Em uma ditadura, ao contrário, as instituições são postas de lado porque elas são apenas uma justificativa para o fim político. Se em algum momento deixam de ser justificativa e passam a ser empecilho, são modificadas ou destruídas.
Pense no resultado das últimas eleições venezuelanas, por exemplo. Segundo o atual e futuro presidente, a democracia está provada porque os resultados das urnas o favoreceram. Mas se ele tivesse perdido, será se haveria a mesma declaração? Ou a força se imporia às instituições, como aconteceu quando ele chegou ao poder pela primeira vez?
A validade dos resultados em uma democracia não estão no resultado em si, mas no respeito ao processo em si, independente do resultado que produzirá. Em outras palavras, a sociedade confiar que os processos são bons o suficiente para produzirem resultados minimamente justos em todas as circunstâncias, ainda que não tenham uma bola de cristal que possibilite prever que resultados serão produzidos.
Em uma ditadura, primeiro olha-se o resultado e depois decide-se se ele é justo ou injusto (pense novamente na Venezuela: a declaração veio apenas depois dos resultados das urnas serem conhecidos).
E essa continuidade é uma outra característica importante nas democracias. As regras podem não ser perfeitas, mas porque elas se perpetuam no tempo (modificando-se aos poucos e não em soluços e solavancos), sabemos quais são. E isso garante nossos direitos.
O STF está muito longe de ser perfeito, e o poder Judiciário – assim como os demais poderes – estão ainda mais longe de serem perfeitos. Mas a alternativa a eles é ainda muito pior: um país no qual não sabemos quais são as regras.
Existe um ponto no qual o condenado (ou o acusador que não conseguiu a condenação) precisa dizer ‘não concordo, mas respeito’. Não porque goste ou aprove o resultado, mas porque respeita a democracia e percebe que a estabilidade jurídica é mais importante que seus interesses pessoais. É justamente essa democracia que permite a ele saber que regras serão aplicadas antes que a condenação ou absolvição ocorram. O desrespeito a esse princípio fundamental significa que, na próxima vez, ele pode ser julgado sem regras claras e preestabelecidas. Ou mesmo sem qualquer regra, em um porão da ditatura.
Pense no caso contrário: se eles houvessem sido absolvidos e a procuradoria-geral da República dissesse que iria recorrer às cortes internacionais.

 English
English Twitter
Twitter Facebook
Facebook Blog RSS
Blog RSS